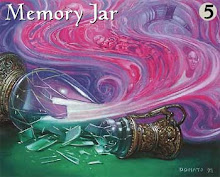"Wild horses couldn't drag me away"
(Rolling Stones, Wild Horses)
(Rolling Stones, Wild Horses)
Confesso que não me lembro, mas dizem que umas das primeiras coisas que aprendi a falar foi "Freddie", "Brian", "John" e "Roger Taylor". Culpa de uma camisa com os rostos dos quatro integrantes do Queen que minha mãe tinha. Dizem que ela ficava brincando comigo, apontando um ou outro e eu ia dizendo o nome. Bem, quem conhece o gosto musical de minha mãe sabe que não poderia ter sido diferente.
No Natal de 1988, minha mãe me fez a seguinte pergunta: "o que você prefere ganhar de Natal: uma bateria ou um Ferrorama?". Sabia perfeitamente bem o que era uma bateria: nessa idade, já flertava com o instrumento, em constante exposição numa loja de instrumentos musicais pela qual passava com frequência. Mas o que diabos era o tal de Ferrorama?! "É um trenzinho que anda sozinho", explicou-me minha mãe. A escolha acabou sendo um divisor de águas em minha vida. Lembro que fiquei em dúvida por alguns minutos antes de responder. De um lado, era a bateria, o instrumento musical que me chamava mais a atenção que as comentadas guitarras. Do outro, um brinquedo desconhecido, mas que parecia fazer coisas maravilhosas. A única certeza é que eu ia ganhar um deles. Os Beatles e os Rolling Stones não foram fortes (ou selvagens) o suficiente para me arrastar: escolhi o Ferrorama.
A partir daí, o ferromodelismo foi meu sonho de infância. Quando saía com minha mãe, o andar de brinquedos da DelCenter (hoje, Magazine Luiza) era parada obrigatória para admirar as maquetes de trens elétricos. Não tinha espaço para aquilo em casa. Os encaixes dos trilhos do Ferrorama logo foram quebrando devido ao frenético "monta, desmonta". E em meio a isso, o desejo de ter uma bateria desapareceu.
A música, no entanto, não. Cresci ouvindo Beatles, dividindo espaço com Titãs e Cazuza. Mas se o futuro promissor na música já tinha começado a desaparecer com o Ferrorama, o golpe fatal veio em 1995, com o CMJF. De alguma forma, simplesmente parei de ouvir música. Desconfio que fui a única criança de 12 anos de idade que não deu a mínima para os Mamonas Assassinas... E depois disso, para Legião Urbana, Skank, Jota Quest... Só bem lá no final do Ensino Médio, comprei um CD: o acústico do Capital Inicial. Aí, então, comecei até a ouvir rádio - decepção foi o dia em que, inocentemente, sintonizei 93,5MHz e descobri que a Transamérica tinha virado rádio evangélica. Até achei que era rádio pirata! Conheci Nirvana, Pearl Jam, Foo Fighters, Guns N' Roses, Red Hot Chili Peppers, Iron Maiden, Linkin Park...
Um belo dia, estava eu a passear com minha família no Carrefour. Então, deparei-me com este CD. O nome "Dire Straits" não me era estranho... Sabia estar associado a música de alta qualidade. E também a um cara que alguns de meus colegas tinham como um "deus" da guitarra: um tal de Mark Knopfler... Não conhecia nenhuma música. Ao fim de Sultans of Swing (aliás, Paula, por que não tem essa música no DVD, hein?), o presidente vitalício do limbo da moda tinha ganho mais um fã. Daí para Eric Clapton e Pink Floyd foi um pulo. Tinha encontrado o tipo de música que mais me agradava.
De lá para cá, o que fiz foi escavar o eMule atrás de coisas "do tempo da minha mãe": Simon & Garfunkel, Bob Dylan, Led Zeppelin, U2, The Police etc. Também recuperei os elos perdidos da Legião Urbana e outras bandas nacionais. Ultimamente, no entanto, tenho descaradamente fechado meus ouvidos para o que aparece no cenário musical. Por quê? Falta de expectativa, descrença mesmo. As músicas que ouvi na minha infância tinham quase trinta anos de idade e ainda soavam atuais. Faz dezoito anos que escutei Revolution pela primeira vez. Nunca enjoei, nunca senti vontade de passar para a próxima faixa. Mas o sucesso de hoje é quase completamente esquecido dentro de um ou dois anos. Música parece ter virado coisa descartável. Qual será a próxima "melhor banda de todos os tempos da última semana"?
No Natal de 1988, minha mãe me fez a seguinte pergunta: "o que você prefere ganhar de Natal: uma bateria ou um Ferrorama?". Sabia perfeitamente bem o que era uma bateria: nessa idade, já flertava com o instrumento, em constante exposição numa loja de instrumentos musicais pela qual passava com frequência. Mas o que diabos era o tal de Ferrorama?! "É um trenzinho que anda sozinho", explicou-me minha mãe. A escolha acabou sendo um divisor de águas em minha vida. Lembro que fiquei em dúvida por alguns minutos antes de responder. De um lado, era a bateria, o instrumento musical que me chamava mais a atenção que as comentadas guitarras. Do outro, um brinquedo desconhecido, mas que parecia fazer coisas maravilhosas. A única certeza é que eu ia ganhar um deles. Os Beatles e os Rolling Stones não foram fortes (ou selvagens) o suficiente para me arrastar: escolhi o Ferrorama.
A partir daí, o ferromodelismo foi meu sonho de infância. Quando saía com minha mãe, o andar de brinquedos da DelCenter (hoje, Magazine Luiza) era parada obrigatória para admirar as maquetes de trens elétricos. Não tinha espaço para aquilo em casa. Os encaixes dos trilhos do Ferrorama logo foram quebrando devido ao frenético "monta, desmonta". E em meio a isso, o desejo de ter uma bateria desapareceu.
A música, no entanto, não. Cresci ouvindo Beatles, dividindo espaço com Titãs e Cazuza. Mas se o futuro promissor na música já tinha começado a desaparecer com o Ferrorama, o golpe fatal veio em 1995, com o CMJF. De alguma forma, simplesmente parei de ouvir música. Desconfio que fui a única criança de 12 anos de idade que não deu a mínima para os Mamonas Assassinas... E depois disso, para Legião Urbana, Skank, Jota Quest... Só bem lá no final do Ensino Médio, comprei um CD: o acústico do Capital Inicial. Aí, então, comecei até a ouvir rádio - decepção foi o dia em que, inocentemente, sintonizei 93,5MHz e descobri que a Transamérica tinha virado rádio evangélica. Até achei que era rádio pirata! Conheci Nirvana, Pearl Jam, Foo Fighters, Guns N' Roses, Red Hot Chili Peppers, Iron Maiden, Linkin Park...
Um belo dia, estava eu a passear com minha família no Carrefour. Então, deparei-me com este CD. O nome "Dire Straits" não me era estranho... Sabia estar associado a música de alta qualidade. E também a um cara que alguns de meus colegas tinham como um "deus" da guitarra: um tal de Mark Knopfler... Não conhecia nenhuma música. Ao fim de Sultans of Swing (aliás, Paula, por que não tem essa música no DVD, hein?), o presidente vitalício do limbo da moda tinha ganho mais um fã. Daí para Eric Clapton e Pink Floyd foi um pulo. Tinha encontrado o tipo de música que mais me agradava.
De lá para cá, o que fiz foi escavar o eMule atrás de coisas "do tempo da minha mãe": Simon & Garfunkel, Bob Dylan, Led Zeppelin, U2, The Police etc. Também recuperei os elos perdidos da Legião Urbana e outras bandas nacionais. Ultimamente, no entanto, tenho descaradamente fechado meus ouvidos para o que aparece no cenário musical. Por quê? Falta de expectativa, descrença mesmo. As músicas que ouvi na minha infância tinham quase trinta anos de idade e ainda soavam atuais. Faz dezoito anos que escutei Revolution pela primeira vez. Nunca enjoei, nunca senti vontade de passar para a próxima faixa. Mas o sucesso de hoje é quase completamente esquecido dentro de um ou dois anos. Música parece ter virado coisa descartável. Qual será a próxima "melhor banda de todos os tempos da última semana"?